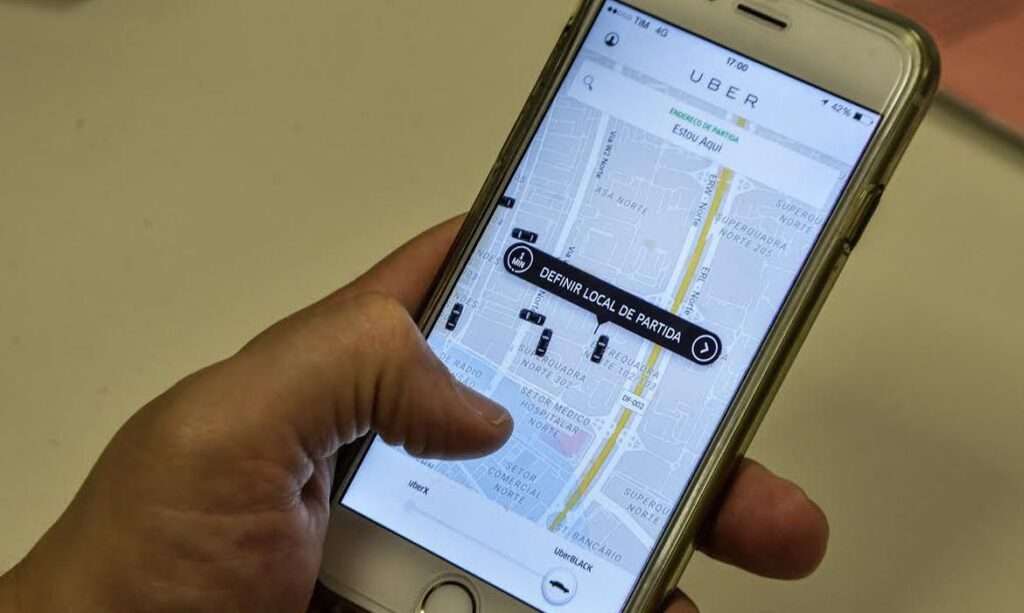Em mapa, a estratégia territorial da Uber no país: desde 2018, ela freia sua expansão para se focar em áreas com infraestrutura, população e renda — sobrecarregando a oferta de transporte em regiões já assistidas. Periferias ficaram à margem
As plataformas digitais de transporte começaram a operar no Brasil há alguns anos. Já é tempo, portanto, de perguntar: em um país onde deslocar-se é um transtorno para a maioria das pessoas e dos lugares, os aplicativos colaboram para a chamada “mobilidade”? Defendemos que esse tema deveria ser discutido em sua totalidade e complexidade, pois não há dúvidas que certo número de consumidores individuais se beneficia dessa inovação.
Os aplicativos de transporte privado são um tipo de plataforma digital, nome um tanto genérico pelo qual são chamadas as corporações globais que impulsionam a digitalização da sociedade e do território. Dois acrônimos simbolizam esse seleto grupo: GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft) e NATU (Netflix, Airbnb, Tesla e Uber). Mesmo no Brasil, é raro quem não se relacione com ao menos uma dessas bilionárias plataformas estadunidenses no cotidiano.
A Uber, fundada em 2009, destaca-se nesse processo e acabou inspirando o termo “uberização”. Um dos aspectos mais visíveis da uberização são as novas relações de trabalho que levam à criação de uma multidão de trabalhadores devidamente subordinados às ordens e aos algoritmos das corporações. O fato de não possuírem grandes autonomias não impede que sejam chamados de “autônomos”, “empreendedores” ou “parceiros”, como os motoristas e entregadores. Contudo, outras dimensões da vida social são igualmente afetadas, incluindo o território.
A sequência de mapas da pesquisa que conduzimos no OPD (Observatório das Plataformas Digitais) revela a estratégia territorial da Uber no Brasil. Os pontos brancos são as regiões que a empresa atua e que extrapolam os limites políticos administrativos municipais. A empresa iniciou sua atuação no Rio de Janeiro em 2014 (às vésperas da Copa do Mundo), e, no mesmo ano, chegou a São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Entre 2016 e 2017, a empresa se expande em direção às capitais de estado, cidades intermediárias e municípios circundantes. De 2018 a 2020, observa-se uma mudança de estratégia: a empresa diminui sua expansão territorial, exclui algumas áreas de atuação e expõe sua dependência em relação à rigidez das áreas mais urbanizadas do país, fixando-se nelas – algo bem distante de um alegórico “espaço virtual”, flexível e disruptivo.
Essas áreas concentram os deslocamentos, as infraestruturas viárias e urbanas, os meios de transporte, a população e a renda. Como para a empresa o território é sinônimo de mercado, e não da necessidade de deslocar-se, a Uber acabou por oferecer mais uma opção de deslocamento às áreas que proporcionalmente já possuíam as maiores densidades de sistemas públicos e privados de transporte. Resumindo: reforçou a oferta onde ela já era favorável. Sua concorrente direta, a 99 (chinesa), possui estratégia similar, enquanto a Cabify (espanhola), a InDriver (russa) e a Sity (brasileira), concentram-se em nichos de mercados territorialmente selecionados.
Os balanços financeiros da Uber mostram que o território brasileiro se tornou o segundo mais rentável para a empresa, já em 2016, atrás apenas dos EUA. As áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo destacam-se entre aquelas com o maior número de viagens no mundo e São Paulo foi a cidade mais rentável para a Uber, em 2017. Consolidou-se o hábito de deslocar-se por aplicativos, o que pressionou os orçamentos familiares e fez os gastos com transporte ultrapassarem os gastos com alimentação, segundo o IBGE.
Simultaneamente, o crescimento sustentável do desemprego fez a oferta de motoristas e entregadores aumentar. Os custos da atividade (veículo, combustível, manutenção, limpeza, multas, seguro) são assumidos pelos próprios trabalhadores, enquanto as tarifas são congeladas ou reduzidas e as taxas cobradas pelas plataformas (entre 20% e 40%) não diminuem. Nessa equação desfavorável, os trabalhadores aumentam suas jornadas de trabalho na medida em que seus ganhos diminuem. Em momentos de crise e desemprego, como o atual, também seria importante quantificar e debater o impacto econômico que as taxas impostas pelas plataformas causam na economia popular urbana, uma vez que parte significativa do dinheiro é drenado para as matrizes dessas corporações.
Nas grandes cidades, um número crescente de veículos circula, direcionados pelas tarifas dinâmicas e pelas áreas de maior demanda de viagens. Essas áreas seriam zonas luminosas, na definição de Milton Santos, pois podem realizar as promessas da modernidade e se tornam mais atrativas às atividades econômicas e à população em geral.
Como as plataformas priorizam as áreas de concentração de serviços, comércios, instituições e outros modos de transporte, parece difícil comprovar que a introdução de milhares de veículos nos já carregados sistemas viários urbanos poderia diminuir o trânsito e os congestionamentos. Apenas na Região Metropolitana de São Paulo foram 468 mil viagens por aplicativo ao dia, segundo a pesquisa Origem Destino do Metrô, de 2017. O que poderá acontecer com os sistemas públicos de transporte (ônibus, metrôs, trens e vans) nessa situação?
Além disso, como as empresas não fornecem relatórios sobre as viagens que realizam, o número de veículos e sua distribuição pelo território, é impossível aprofundar as pesquisas sobre o tema – tanto quanto planejar e organizar o território e o trânsito, duas obrigações dos municípios. Sem os dados que o comprovem, o discurso de que reduzem o trânsito pode não passar de propaganda. Ao mesmo tempo, motoristas, entregadores, veículos, smartphones e passageiros, tornam-se sensores de captura de informações em tempo real sobre o território, os hábitos e comportamentos.
Esses gigantescos bancos de dados fornecem o recurso fundamental do século XXI: as informações que movimentam e aprimoram as engrenagens algorítmicas das plataformas digitais.
Por outro lado, as zonas opacas, formadas pelas periferias e áreas populares, seguem à margem do serviço. A técnica de “cercamento geográfico” por GPS (GeoFencing) cria uma espécie de banimento geográfico às porções do território que as empresas definem como “áreas de risco”. Nesse laissez-faire, não se questiona o fato de que aqueles que vivem e trabalham nessas áreas já sofram com a escassez de outros modos de transporte. Uma nova desigualdade, informacional, diferencia a produtividade dos locais e dificulta o dia a dia dessas populações.
Ao contrário do que propagandeiam, a chegada das plataformas de transporte privado não significou, para uma parcela importante das pessoas e dos lugares, melhoria nos deslocamentos. Assim como os trabalhadores uberizados, essas áreas também estão sendo abandonadas à sua própria sorte, pois não podem efetivar o uso da plataforma, mesmo podendo pagar pelo serviço. Não seria exagero afirmar, portanto, que as empresas têm assumindo um papel político de organização do território e impulsionado novos processos de fragmentação territorial.
Finalmente, as plataformas digitais de transporte nos permitem uma nova explicação do território brasileiro. Enquanto as empresas globais e nacionais instalam monopólios e oligopólios nas zonas luminosas, as zonas opacas ensaiam adaptar a tecnologia às suas necessidades. Multiplicam-se os aplicativos que são criados para atender as áreas que não são atrativas às grandes corporações. Essas soluções podem ser pontuais e incipientes, mas dão novo valor ao trabalho de motoristas e entregadores e novo sentido às técnicas e às informações, que passam a ser localmente geradas e geridas.
Fonte: Outras Palavras